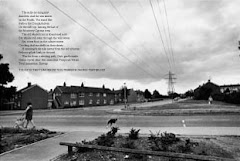sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
Ciências duras, ciências moles, e cultura
Justificando: "como somos cada vez mais egoístas, mais mimados como sociedade, acostumados a ter tudo, a ter bem-estar e a gastar muito, estas respostas da ciência, por estranho que pareça, se calhar estão a acelerar os desafios que são mais globais: o da demografia, o do clima, o do esgotamento dos recursos naturais". Este é o condicionamento ético das tecno-ciências. Mas há outro:
As ciências modernas desenvolveram-se sobre uma concepção mecanicista da realidade material, podendo esta assim ser decomposta em elementos, associados segundo certas relações, normalmente formuláveis matematicamente. Ao contrário, a concepção medieval era mais organicista, cada parte (qual órgão) só se compreende e subsiste a funcionar num organismo, dotado de alguma espontaneidade (livre do espartilhamento das relações matemáticas). Veja-se a passagem da alquimia para a química. Mas ainda no séc. XX houve quem propusesse um funcionalismo para compreender por exemplo a mente. Ou seja, na base de quaisquer formulações científicas ou aplicações tecnológicas, potenciando mas também orientando ou enquadrando estas últimas, encontram-se concepções gerais de "objecto", "causalidade", etc. Além dos "controlos éticos" que Sobrinho Simões afirmou ser necessário introduzir, há que implementar a constante reflexão crítica, metafísica e epistemológica, sobre aqueles conceitos de base.
quinta-feira, 14 de janeiro de 2010
Do determinismo mental e da medição do fluxo sanguíneo
Mas para já abri-o no parágrafo sobre as 3 assunções fundamentais das ciências naturais modernas - (1) nenhuma explanação científica é permanentemente verdadeira; (2) todos os fenómenos podem ser reduzidos a processos materiais; (3) não há valores éticos nos fenómenos naturais.
A 2ª assunção coloca a questão determinismo vs. indeterminismo - ou como tenho aqui colocado, porque creio que mais frutuosa, reducionismo vs. emergentismo (este último conceito talvez permita explicar o que "indeterminismo" deixa em aberto).
Kagan argumenta contra o postulado determinista, e (até como psicólogo) centra-se na questão duma redução dos fenómenos psicológicos aos processos cerebrais (a que me referi ex. Cérebro (e mente): da quantidade à qualidade!... ). Parece-me útil aqui assinalar os 9 problemas que encontra a um dos principais métodos de investigação que tem sugerido essa redução, a da medição do fluxo sanguíneo em zonas do cérebro uma vez sujeita a pessoa a certos estímulos. Supostamente a variação desse fluxo indiciaria a localização da função mental, própria ao comportamento observado, na zona do cérebro em que fosse (essa variação) medida, mas:
1º) esse fluxo indicia o input numa zona neuronal, mas não tanto o seu output;
2º) não há uma relação linear entre a quantidade de sangue que advém a uma zona e a quantidade de actividade neuronal aí;
3º) a magnitude da alteração do fluxo só é detectável 5 ou 6 s. depois da consciência do estímulo;
4º) só quando há bastante irrigação sanguínea é que o fluxo é significativo da actividade neuronal;
5º) a expectativa, ou ausência dela, do estímulo afecta a quantidade do fluxo após o estímulo;
6º) métodos diferentes de aferir a quantidade do fluxo obtêm resultados diferentes;
7º) áreas com aumento do fluxo podem não ser necessárias aos fenómenos psicológicos em causa;
8º) as instruções do experimentador ao sujeito da experiência condicionam a quantidade do fluxo;
9º) a reacção cerebral a um estímulo responde às diversas propriedades físicas deste - tamanho, cor, brilho... - sendo difícil distinguir o que responde a quê.
Ou seja, a metodologia condiciona a obtenção de quaisquer teses. Seja no protocolo que se tenha estabelecido para as experiências controladas sobre os fenómenos em causa, seja nos aparelhos utilizados, seja nas categorias teóricas de interpretação dos resultados.
Uma defesa da redução da mente ao cérebro deverá pois responder aos problemas que se coloquem aos métodos que essa defesa tenha usado... Pelo menos tão bem quanto uma equivalente defesa do dualismo (que hipostasia a mente ou espírito para além do cérebro) lograr responder aos problemas que se lhe coloquem!
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010
Para o esclarecimento do "transhumanismo", e para um seu enquadramento ético
Uma, da leitura do post http://transhumanismo.blogs.sapo.pt/15728.html de Rui Barbosa (no blogue aqui assinalado ao lado).
A outra, do enquadramento ético a tais desenvolvimentos tecnocientíficos por Gilbert Hottois (O Paradigma Bioético, trad. P. Reis, Lisboa: Salamandra, 1992) - que apontei na nota 24 do ensaio que este blogue prolonga precisamente para esse enquadramento. Distinguem-se 3 atitudes: a liberal, a restritiva, e a intermédia. A 1ª, de acordo com o chamado imperativo técnico, defende que se faça tudo o que for tecnicamente possível - para realização dum homem concebido como homo faber. A 2ª defende antes que se respeite sempre uma Natureza - a postular. A 3ª, que na linha do filósofo Hans Jonas propõe que a intervenção técnica seja orientada, e limitada, não só pela salvaguarda da vida, mas ainda, no caso humano, pela salvaguarda do livre arbítrio.
A propósito, esse investigador disse-me há dias que estão a tentar lançar uma Rede Nacional de Investigação sobre o Transhumanismo. Aqui deixo algumas palavras da minha resposta:
"Concordo 200% com a sua proposta duma Rede Nac. Invest. Transh., e pelas razões que aponta mais a sinergia que poderia trazer no plano da investigação de ponta e do pensamento de longo prazo - tradicionalmente deficitários na nossa cultura do desenrascanço e das vistas curtas (foi preciso vir uma inglesa educar os filhos para que estes, uma vez no Governo e na "empresa pública" que promoveu a navegação atlântica, fizessem os Descobrimentos que ainda hoje gostamos de tomar como nosso 1º factor de identidade!)".
sábado, 14 de novembro de 2009
Mas... há um problema civilizacional?!
O autor - por sinal um conhecido estudioso da evolução das civilizações - reconhece 2 grandes revoluções que facultaram o sucesso da espécie humana na Terra, e perspectiva uma 3ª. A 1ª (se bem entendi) terá sido a passagem do nomadismo recolector ao sedentarismo agrícola - em O Nó do Problema Ocidental - A dimensão das ciências (p. 49) refiro de passagem a datação de vestígios dessa época que sugerem a anterioridade de símbolos religiosos aos instrumentos daquele organização sócio-económica, pelo que tal revolução terá começado por ser cultural. A 2ª grande revolução foi a industrial. Uma e outra terão sido provocadas por uma inteligência (a que se desenvolveu com o homo sapiens sapiens) capaz de determinar um projecto, e desenvolver uma técnica para usar o mundo dito natural em ordem ao cumprimento daquele. Segundo o autor, aliás, "natureza" (como entidade transcendente ao homem, etc.) expressa apenas a resistência que os 1ºs homens encontravam no mundo externo, não podemos porém reconhecer-lhe hoje qualquer imutabilidade, ou essência eterna e assim sagrada que houvesse que respeitar, dada a historicidade que lhe descobrimos desde muito antes de aparecer o homo erectus.
E agora a mesma inteligência preparar-se-á para uma 3ª revolução: a da aplicação da genética, biónica, robótica, etc., ao ser humano, o qual se transformará assim em ordem à erradicação de doenças, envelhecimento e mortalidade (!)... Além disto tudo, talvez assim se adapte o ser "pós-humano" à escassez de água potável, de diversos nutrientes, etc. que as previstas alterações climáticas deverão acarretar - no ensaio acima referido tive o cuidado de mencionar autores como B. Lomborg, que sustentam que, mais fácil do que inverter essas alterações, será adaptarmos-nos a elas.
Intuitivamente, me parece difícil que, se estas alterações ocorrerem nas próximas 2 ou 3 décadas, tais alterações tecnológicas de toda uma espécie até aqui apenas natural ainda venham a tempo de resguardar a maioria dos indivíduos dessa (nova) espécie. Todavia a velocidade da expansão da transformação comunicacional desde os primeiros telemóveis e o começo da aplicação da internet à comunicação aberta (não apenas militar nos EUA) foi de tal ordem que deixo um ponto de interrogação sobre aquela intuição.
Mas como Schiavone bem apontará (convergindo aqui com o autor que referi naquele post de Julho), a questão não é apenas técnica. Antes disso, é esse o nosso projecto?
domingo, 20 de setembro de 2009
Uma civilização 2.0?... (2)
sábado, 19 de setembro de 2009
Uma civilização 2.0?...
quinta-feira, 27 de agosto de 2009
"Leonardo da Vinci - O Génio"

sábado, 8 de agosto de 2009
Livre arbítrio, mente... e "robopatas" (2)
Antes de avançar mais 1 passo em alguma dessas questões, deixo aqui a referência a um recente estudo que elucida melhor a sociopatia humana à qual a inteligência artificial está assim a ser eventualmente reportada. É o artigo de J. Decety et. al., "Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation", Biological Psyhology, 80 (2) 2009: 203-211 (http://ccsn.uchicago.edu/events/Decety_BiologicalPsy2008.pdf).
A hipótese a testar foi a de que os adolescentes violentos se revelariam emocionalmente indiferentes ao sofrimento das respectivas vítimas. A metodologia empregue foi a da visualização do cérebro em actividade, aplicada a tais jovens que assistiam a imagens de violência. A MRI, porém, infirmou aquela hipótese, revelando antes que, nos delinquentes, as emoções são solicitadas... mas mediante os centros cerebrais do prazer! Ou seja, invertendo a empatia pela qual se sofre perante o sofrimento de um semelhante a nós, aparentemente a sociopatia associa prazer no próprio ao sofrimento alheio - sofrimento de algo que assim deixará de ser semelhante ao sujeito do prazer. Daí a opção por comportamentos destrutivos ao invés de construtivos ou pelo menos liberais.
Voltando aos robots, e à questão da escolha ética, desde logo me parece que essa experiência coloca mais um problema à tese funcionalista segundo a qual a mente se explica pelas funções exercidas, nomeadamente desde um input a um output passando pelo tratamento lógico, formal da informação; sendo indiferente que o que implementa tais funções sejam células nervosas (neurónios), ou semicondutores num sistema de hardware, etc. - daí a ideia de que a inteligência artificial será equivalente à humana - e derivando o output (comportamentos resultantes) do input + regras de tratamento da informação.
Diferentemente, no momento intermédio do tratamento da informação pelos vistos ocorrem qualidades emocionais (sofrimento, prazer...) que não derivam do input, nem decorrem estritamente do sistema de tratamento da informação, mas que determinam o sentido desta última, condicionando assim o output comportamental - ex. ou o sofrimento que gera solidariedade, ou o prazer que gera destruição gratuita.
A questão de uma eventual "robopatia" dependerá então 1) da inteligência artificial poder gerar tais qualidades, não se restringindo ao tratamento formal da informação; e 2) dessa geração ser livre, escapando à programação prévia do robot, de tal modo que nestes possam passar a ocorrer qualidades emocionais pervertidas. Note-se que isto porventura se conjuga com toda uma teoria da mente, nomeadamente com os processos perceptivos pelos quais se reconhece o outro como semelhante, ou como objecto de exercício do poder; ou com os processos éticos e mesmo existenciais pelos quais se opta pelo poder-destruir em detrimento do poder-construir...
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Crise económico-financeira, transhumanismo... e a diferença entre "felicidade" e "prazeres"
Uma, de Crise et Rénovation de la Finance (Paris: Odile Jacob, 2009) do conhecido economista Michel Aglietta juntamente com Sandra Rigot; a outra, de Demain les Posthumains (Paris: Hachette, 2009) de Jean-Michel Besnier. A 1ª obra aponta como núcleo da renovação da finança contemporânea a substituição de uma lógica de investimento de curto prazo (na expectativa dos maiores dividendos por menor que seja a sustentabilidade económica, e sem atenção a consequências sociais e ecológicas, etc.) por uma lógica de longo prazo, no respeito pela sustentabilidade. Na 2ª obra, por sua vez, quaisquer projectos de fusão homem-máquina, de ligação do cérebro à internet, de digitalização das recordações de cada pessoa de modo que a memória destas (não sobre estas) perdure para além da morte física,... na medida em que dissolvam a responsabilidade pessoal e intransmissível são acusadas de constituirem uma "fatigue d'être soi". Nomeadamente, representarão o fim do ideal de cultura, a saber, o da auto-ultrapassagem do homem... de modo que nos resta procurar obter tantos e tão intensos prazeres quantos possível. Uma procura que, sem alvo orientador a cumprir, se quedará pelos investimentos (financeiros entre outros) de curto prazo.
Se do demain de J.-M. Besnier nos falta a técnica (para tais ligações à internet, etc.), os resultados económico-financeiros desde 2008 para cá parecem implicar uma redução de "felicidade" a "soma de prazeres" (por parte dos responsáveis por tais resultados, a começar por quem os fez, mas continuando com quem lhos permitiu, mais todos quantos têm votado nestes políticos em detrimento dos logo rotulados velhos do restelo...), redução que, representando a dissolução de qualquer meta humana a cumprir, indiciará uma já nossa posthumanité.
Deixo este post mais como conjunto de sugestões do que já como discurso articulado. Mas pode encontrar um destes últimos, nesta área temática, já aqui ao lado no blog de M. Berman, nomeadamente no post:
http://morrisberman.blogspot.com/2009/04/how-chic-was-my-progress.html#links
quarta-feira, 22 de julho de 2009
Crise civilizacional... e desenvolvimento técnico?!
A evolução técnica do último meio século tem sido formidável (designadamente na informática, robótica industrial, telecomunicações), e anuncia-se continuar com as promessas biotecnológicas, nanotecnológicas, etc., de modo que parece difícil falar de uma crise civilizacional global precisamente na civilização, o Ocidente, que tem promovido essa evolução. No ensaio que estrutura este blog limitei-me a postular uma dependência, a longo prazo, da técnica em relação à ciência (dependência lógica, pois processualmente, ou sobre a ciência tal como esta se faz, acontece ser ela estimulada pela técnica), para depois apontar uma crise paradigmática na ciência fundamental contemporânea.
Contra esse postulado, parece vir o parágrafo "The rise of science from technology" de James K. Feibleman em Technology and Reality (The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff, 1982: 8-9). Contrabalançando tal subtítulo, porém, logo nas 2 primeiras linhas o autor reconhece a ciência pelo método hipotético-dedutivo - de forma que o conhecimento não se erige de baixo para cima (bottom-up) a partir de quaisquer átomos - como pretende o projecto tecnocientífico mencionado naquele post anterior - antes evolui em espiral, duma hipótese teórica para baixo na confirmação dela, e daqui eventualmente para cima e para a frente induzindo alguma evolução das hipóteses. E estas são formuladas intelectualmente, não decorrem directa e neutralmente das sensações. Uma crise científica asfixiará assim, a longo prazo, o desenvolvimento técnico.
Nessa obra já algo antiga, a ciência é então dita emergir da técnica, por um lado, pela sua dependência actual de instrumentos técnicos complexos, por outro lado, num seu estatuto pragmático de actividade de resolução de problemas (tal como a técnica). Este segundo ponto, porém, apenas constitui uma assunção pelo autor da concepção pragmática de "conhecimento" [sobre o significado deste último nome posso sugerir a minha notasinha em http://www.webartigos.com/articles/13591/1/o-que-e-conhecer/pagina1.html], não reduz os problemas teóricos a práticos ou técnicos. Quanto ao uso de gigantescos aceleradores de partículas, etc., etc., esse uso, logo na concepção de tais instrumentos, é pré-orientado pelas hipóteses. Quando passam a ser estas a serem escolhidas conforme o custo daqueles - como acusa hoje Isabelle Stengers na nota 7 de O Nó do Problema Ocidental - prepara-se uma decadência científica. "rise", na frase acima é para escrever sempre em minúsculas.
Sobre o conhecimento (logos) da técnica, ou "tecno-logia", deixo aqui o link para um texto (entre outros) no Site Internet de l'UTBM - veja-se como esse conhecimento não dispensa hoje as dimensões social,...
http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/Quelle-technologie_Lequin-Lamard_2037.pdf
sábado, 18 de julho de 2009
Objecção à subordinação da técnica... e pista de contra-objecção
O video em baixo é uma apresentação por Bernadette Bensaude-Vincent do seu recente livro Les Vertiges de la Technoscience - Façonner le monde atome par atome (Paris: La Découverte, 2009). Esse projecto tecnocientífico apresenta uma objecção ao meu argumento, no cap. 4 de O Nó do Problema Ocidental, pela não unicidade do(s) mundo(s) que resulta(m) dos diversos projectos de investigação tecnocientífica - isto é, opções de base diferentes levam estes últimos ao que os metafísicos contemporâneos chamam "mundos paralelos". Pois (esta é a objecção) a partir de átomos, na base da escala nanométrica, afinal será possível convergir num único mundo - e progressivamente melhor!
Mas a este projecto tecnocientífico contemporâneo me parece logo se contrapor a diversidade actual das concepções dos ditos "átomos" - apontei isto nas pp. 57 e 58 desse ensaio escrito entre 2004 e 2006; posterior à bibliografia ali referida, veja-se a muito sugestiva explicação de José R. Croca e Rui N. Moreira em Diálogos Sobre Física Quântica - Dos Paradoxos à Não-Linearidade (Lisboa: Esfera do Caos, 2007). Além disto, Bensaude-Vincent aponta o reconhecimento dos valores éticos na pré-orientação dessas pesquisas. Ao projecto de convergência tecnocientífica restará pois dissolver a diversidade ética e meta-ética, que apontei nas notas 19 e 24 do ensaio... ou dissolver-se ele próprio (projecto).