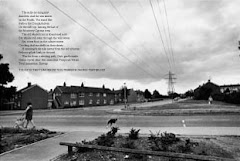Estava marcada para ontem no Porto, no âmbito do ciclo de conferências "Novas respostas a novos desafios" promovido pela Fundação Mário Soares, a conferência "Novas respostas da ciência" de Sobrinho Simões, na qual o Director do IPATIMUP se propôs defender "que é necessário evoluir de uma perspectiva científico-tecnológica para "uma muito mais cultural, política e, no limite, até religiosa". Frisou que acredita que é a cultura que perspectiva a ciência e não o contrário." (v. http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=39787&op=all).
Justificando: "como somos cada vez mais egoístas, mais mimados como sociedade, acostumados a ter tudo, a ter bem-estar e a gastar muito, estas respostas da ciência, por estranho que pareça, se calhar estão a acelerar os desafios que são mais globais: o da demografia, o do clima, o do esgotamento dos recursos naturais". Este é o condicionamento ético das tecno-ciências. Mas há outro:
As ciências modernas desenvolveram-se sobre uma concepção mecanicista da realidade material, podendo esta assim ser decomposta em elementos, associados segundo certas relações, normalmente formuláveis matematicamente. Ao contrário, a concepção medieval era mais organicista, cada parte (qual órgão) só se compreende e subsiste a funcionar num organismo, dotado de alguma espontaneidade (livre do espartilhamento das relações matemáticas). Veja-se a passagem da alquimia para a química. Mas ainda no séc. XX houve quem propusesse um funcionalismo para compreender por exemplo a mente. Ou seja, na base de quaisquer formulações científicas ou aplicações tecnológicas, potenciando mas também orientando ou enquadrando estas últimas, encontram-se concepções gerais de "objecto", "causalidade", etc. Além dos "controlos éticos" que Sobrinho Simões afirmou ser necessário introduzir, há que implementar a constante reflexão crítica, metafísica e epistemológica, sobre aqueles conceitos de base.
Mostrar mensagens com a etiqueta metafísica. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta metafísica. Mostrar todas as mensagens
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
sexta-feira, 8 de janeiro de 2010
Da fundamentação do liberalismo
O comentário de Nuno Barata a Por um 2010... com sentido! (3/3) parece-me particularmente fino numa sugestão da célebre abordagem de John Rawls - a quem me reportei em 2 Conceitos de liberdade, 2 liberalismos - à questão da organização política justa: considere-se cada cidadão como se estivesse em frente de um bolo-rei com várias favas e (talvez poucos!) brindes, uma vez que não tem qualquer critério para escolher a fatia certa, o mais seguro é contratualizar à partida com os restantes convivas alguma forma de solidariedade no suporte das favas - o que implica alguma redistribuição do brinde.
A nós liberais (como eu, e como tenho ideia que o Nuno) essa abordagem costuma seduzir logo pela simplicidade e elegância da sua racionalidade! Uma objecção que se nos coloca é porém que as pessoas em geral não escolhem exclusiva, ou nem mesmo primordialmente, por ponderação racional de custos/benefícios (excelente exemplo é a pseudo-argumentação, ao que vejo apenas composta por teses soltas e por desejos e perfeitamente esquecida de cálculos quantificadores verificáveis independentemente, que o Governo português tem apresentado em defesa da construção imediata do TGV, etc.). Da situação ideal criada por Rawls não se poderá fazer decorrer pois qualquer organização política (ou pelo menos esta não será aplicável em comunidades que elegem deputados que suportam ministros como aqueles!).
Independentemente da resposta que possamos dar a esta objecção, abre-se ao lado no entanto uma abordagem que procura fundamentar a ideologia política numa concepção da realidade - numa antropologia, que por sua vez assenta numa metafísica. Foi o caminho seguido pelo líder liberal micaelense, Francisco Luís Tavares, na sua conferência de grande impacto ("A democracia e a nação") a 2 de Janeiro de 1933 - em plena alvorada do Estado Novo! - ao radicar a sua proposta política no postulado, ultimamente metafísico nominalista, de que "o indivíduo é o elemento social mais importante, toda a actividade funcional parte dele e para ele". Apesar da sedução racionalista rawlsiana, pela minha parte inclino-me para esta 2ª abordagem.
Por curiosidade recordo os números apresentados em Da filosofia e das suas tendências actuais : nominalismo - 37,7%; realismo (que reconhece a realidade de classes como "nação") - 39,3%; outros (que incluem combinações hierárquicas entre as posições anteriores) - 22,9%. A disputa está aberta.
A nós liberais (como eu, e como tenho ideia que o Nuno) essa abordagem costuma seduzir logo pela simplicidade e elegância da sua racionalidade! Uma objecção que se nos coloca é porém que as pessoas em geral não escolhem exclusiva, ou nem mesmo primordialmente, por ponderação racional de custos/benefícios (excelente exemplo é a pseudo-argumentação, ao que vejo apenas composta por teses soltas e por desejos e perfeitamente esquecida de cálculos quantificadores verificáveis independentemente, que o Governo português tem apresentado em defesa da construção imediata do TGV, etc.). Da situação ideal criada por Rawls não se poderá fazer decorrer pois qualquer organização política (ou pelo menos esta não será aplicável em comunidades que elegem deputados que suportam ministros como aqueles!).
Independentemente da resposta que possamos dar a esta objecção, abre-se ao lado no entanto uma abordagem que procura fundamentar a ideologia política numa concepção da realidade - numa antropologia, que por sua vez assenta numa metafísica. Foi o caminho seguido pelo líder liberal micaelense, Francisco Luís Tavares, na sua conferência de grande impacto ("A democracia e a nação") a 2 de Janeiro de 1933 - em plena alvorada do Estado Novo! - ao radicar a sua proposta política no postulado, ultimamente metafísico nominalista, de que "o indivíduo é o elemento social mais importante, toda a actividade funcional parte dele e para ele". Apesar da sedução racionalista rawlsiana, pela minha parte inclino-me para esta 2ª abordagem.
Por curiosidade recordo os números apresentados em Da filosofia e das suas tendências actuais : nominalismo - 37,7%; realismo (que reconhece a realidade de classes como "nação") - 39,3%; outros (que incluem combinações hierárquicas entre as posições anteriores) - 22,9%. A disputa está aberta.
segunda-feira, 21 de dezembro de 2009
Avatar
A minha mulher e eu fomos ontem convidados pelas nossas filhas para irmos com elas ao cinema, ver Avatar.
A história é a da Pocahontas, mas com um final feliz - logo aqui começa a fantasia, que os ingleses em regra vencem os índios...
Nesta história de James Cameron a fantasia é porém complexa: o actual Cpt. John Smith - um ser humano num planeta de outro sistema solar - comunica com os actuais índios - os indígenas dessa planeta - mediante um seu (de John Smith) avatar - i.e. uma personagem controlada pelo jogador nas suas (dela) relações com outras personagens semelhantes num mundo delas. Mas, à diferença do programa virtual Second Life, este outro mundo e portanto aquelas outras personagens são tão reais quanto o nosso John Smith e o seu mundo. A assunção do avatar pelo ser humano é portanto a passagem por um portal que abre a outra dimensão além da imediata. A "second life" é 2ª a partir daqui, e esta é que é 2ª uma vez a partir dali. Ao ponto do ente que as atravessa a ambas poder escolher em qual ficar de vez. Ao antigo Cpt. John Smith isso não foi possível, que os laços culturais eram demasiado fortes para que ele simplesmente se tornasse índio...
Mas onde a fantasia dá um passo extraordinário neste filme é na tecnologia empregue! Os efeitos visuais são na verdade formidáveis. Como ouvi a um crítico, não nos apercebemos da diferença entre o que foi tradicionalmente filmado e o que foi produzido por computador. Ou seja, desde sempre o nosso sistema perceptivo gerou fantasias (ex. alucinações), permitiu erros (ex. na consideração do que se vê ao longe), mas até aqui não tínhamos meios para produzir intencionalmente fantasias que se confundissem com o que a nossa percepção nos dá - ex. o macaco em King Kong não nos aparece como um gorila que vemos naturalmente. Agora, há talvez ainda uma leve menor espontaneidade (no ritmo dos movimentos, nos equilíbrios/desequilíbrios destes...) nas figuras animadas virtualmente, mas a diferença praticamente se dilui.
Cada vez mais, pois, se exige resposta a estas 2 velhas perguntas metafísicas:
- Verifica-se alguma diferença que justifique distinguir-se os termos "realidade" e "fantasia"?
Se sim...
- Com que critério será possível distinguir uma e outra?
A história é a da Pocahontas, mas com um final feliz - logo aqui começa a fantasia, que os ingleses em regra vencem os índios...
Nesta história de James Cameron a fantasia é porém complexa: o actual Cpt. John Smith - um ser humano num planeta de outro sistema solar - comunica com os actuais índios - os indígenas dessa planeta - mediante um seu (de John Smith) avatar - i.e. uma personagem controlada pelo jogador nas suas (dela) relações com outras personagens semelhantes num mundo delas. Mas, à diferença do programa virtual Second Life, este outro mundo e portanto aquelas outras personagens são tão reais quanto o nosso John Smith e o seu mundo. A assunção do avatar pelo ser humano é portanto a passagem por um portal que abre a outra dimensão além da imediata. A "second life" é 2ª a partir daqui, e esta é que é 2ª uma vez a partir dali. Ao ponto do ente que as atravessa a ambas poder escolher em qual ficar de vez. Ao antigo Cpt. John Smith isso não foi possível, que os laços culturais eram demasiado fortes para que ele simplesmente se tornasse índio...
Mas onde a fantasia dá um passo extraordinário neste filme é na tecnologia empregue! Os efeitos visuais são na verdade formidáveis. Como ouvi a um crítico, não nos apercebemos da diferença entre o que foi tradicionalmente filmado e o que foi produzido por computador. Ou seja, desde sempre o nosso sistema perceptivo gerou fantasias (ex. alucinações), permitiu erros (ex. na consideração do que se vê ao longe), mas até aqui não tínhamos meios para produzir intencionalmente fantasias que se confundissem com o que a nossa percepção nos dá - ex. o macaco em King Kong não nos aparece como um gorila que vemos naturalmente. Agora, há talvez ainda uma leve menor espontaneidade (no ritmo dos movimentos, nos equilíbrios/desequilíbrios destes...) nas figuras animadas virtualmente, mas a diferença praticamente se dilui.
Cada vez mais, pois, se exige resposta a estas 2 velhas perguntas metafísicas:
- Verifica-se alguma diferença que justifique distinguir-se os termos "realidade" e "fantasia"?
Se sim...
- Com que critério será possível distinguir uma e outra?
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
Da filosofia e das suas tendências actuais
Recebi os resultados preliminares do recente inquérito da PhilPapers, dirigido por David Bourget e David Chalmers, a que responderam 3226 pessoas, sobre as posições numa série de questões que fazem a agenda filosófica contemporânea. Já neste blogue tive um desabafo sobre a filosofia dos últimos 2 séculos (Da filosofia nos séc. XIX e XX )... Mas considerando antes o que reconheci a essa velha disciplina intelectual em A Filosofia, os Seus Outros... e a Razão do Leigo (http://www.lusosofia.net/textos/albergaria_miguel_soares_de_a_filosofia.pdf), aqui incluo esses resultados.
2 notas prévias: em Uma cultivação em "T" assinalei que este blogue seria dedicado a explorações transdisciplinares e superficiais - o traço horizontal do T; mas será necessário complementar quaisquer movimentos como esse com o aprofundamento especializante do traço vertical. Este inquérito é um indicador das tendências actuais no aprofundamento de algumas das questões que estruturam este blogue. Questões sem resposta?... Pelo menos sobre um mundo além do sujeito que o percepciona, não é o que a estatística sobre o cepticismo revela que os filósofos pensam!
2 notas prévias: em Uma cultivação em "T" assinalei que este blogue seria dedicado a explorações transdisciplinares e superficiais - o traço horizontal do T; mas será necessário complementar quaisquer movimentos como esse com o aprofundamento especializante do traço vertical. Este inquérito é um indicador das tendências actuais no aprofundamento de algumas das questões que estruturam este blogue. Questões sem resposta?... Pelo menos sobre um mundo além do sujeito que o percepciona, não é o que a estatística sobre o cepticismo revela que os filósofos pensam!
A priori knowledge: yes or no?
Accept or lean toward: yes
662 / 931 (71.1%)
Accept or lean toward: no
171 / 931 (18.3%)
Other
98 / 931 (10.5%)
Abstract objects: Platonism or nominalism?
Accept or lean toward: Platonism
366 / 931 (39.3%)
Accept or lean toward: nominalism
351 / 931 (37.7%)
Other
214 / 931 (22.9%)
Aesthetic value: objective or subjective?
Accept or lean toward: objective
382 / 931 (41%)
Accept or lean toward: subjective
321 / 931 (34.4%)
Other
228 / 931 (24.4%)
Analytic-synthetic distinction: yes or no?
Accept or lean toward: yes
604 / 931 (64.8%)
Accept or lean toward: no
252 / 931 (27%)
Other
75 / 931 (8%)
Epistemic justification: internalism or externalism?
Accept or lean toward: externalism
398 / 931 (42.7%)
Other
287 / 931 (30.8%)
Accept or lean toward: internalism
246 / 931 (26.4%)
External world: idealism, skepticism, or non-skeptical realism?
Accept or lean toward: non-skeptical realism
760 / 931 (81.6%)
Other
86 / 931 (9.2%)
Accept or lean toward: skepticism
45 / 931 (4.8%)
Accept or lean toward: idealism
40 / 931 (4.2%)
Free will: compatibilism, libertarianism, or no free will?
Accept or lean toward: compatibilism
550 / 931 (59%)
Other
139 / 931 (14.9%)
Accept or lean toward: libertarianism
128 / 931 (13.7%)
Accept or lean toward: no free will
114 / 931 (12.2%)
God: theism or atheism?
Accept or lean toward: atheism
678 / 931 (72.8%)
Accept or lean toward: theism
136 / 931 (14.6%)
Other
117 / 931 (12.5%)
Knowledge claims: contextualism, relativism, or invariantism?
Accept or lean toward: contextualism
373 / 931 (40%)
Accept or lean toward: invariantism
290 / 931 (31.1%)
Other
241 / 931 (25.8%)
Accept or lean toward: relativism
27 / 931 (2.9%)
Knowledge: empiricism or rationalism?
Other
346 / 931 (37.1%)
Accept or lean toward: empiricism
326 / 931 (35%)
Accept or lean toward: rationalism
259 / 931 (27.8%)
Laws of nature: Humean or non-Humean?
Accept or lean toward: non-Humean
532 / 931 (57.1%)
Accept or lean toward: Humean
230 / 931 (24.7%)
Other
169 / 931 (18.1%)
Logic: classical or non-classical?
Accept or lean toward: classical
480 / 931 (51.5%)
Other
308 / 931 (33%)
Accept or lean toward: non-classical
143 / 931 (15.3%)
Mental content: internalism or externalism?
Accept or lean toward: externalism
476 / 931 (51.1%)
Other
269 / 931 (28.8%)
Accept or lean toward: internalism
186 / 931 (19.9%)
Meta-ethics: moral realism or moral anti-realism?
Accept or lean toward: moral realism
525 / 931 (56.3%)
Accept or lean toward: moral anti-realism
258 / 931 (27.7%)
Other
148 / 931 (15.8%)
Metaphilosophy: naturalism or non-naturalism?
Accept or lean toward: naturalism
464 / 931 (49.8%)
Accept or lean toward: non-naturalism
241 / 931 (25.8%)
Other
226 / 931 (24.2%)
Mind: physicalism or non-physicalism?
Accept or lean toward: physicalism
526 / 931 (56.4%)
Accept or lean toward: non-physicalism
252 / 931 (27%)
Other
153 / 931 (16.4%)
Moral judgment: cognitivism or non-cognitivism?
Accept or lean toward: cognitivism
612 / 931 (65.7%)
Other
161 / 931 (17.2%)
Accept or lean toward: non-cognitivism
158 / 931 (16.9%)
Moral motivation: internalism or externalism?
Other
329 / 931 (35.3%)
Accept or lean toward: internalism
325 / 931 (34.9%)
Accept or lean toward: externalism
277 / 931 (29.7%)
Newcomb's problem: one box or two boxes?
Other
441 / 931 (47.3%)
Accept or lean toward: two boxes
292 / 931 (31.3%)
Accept or lean toward: one box
198 / 931 (21.2%)
Normative ethics: deontology, consequentialism, or virtue ethics?
Other
301 / 931 (32.3%)
Accept or lean toward: deontology
241 / 931 (25.8%)
Accept or lean toward: consequentialism
220 / 931 (23.6%)
Accept or lean toward: virtue ethics
169 / 931 (18.1%)
Perceptual experience: disjunctivism, qualia theory, representationalism, or sense-datum theory?
Other
393 / 931 (42.2%)
Accept or lean toward: representationalism
293 / 931 (31.4%)
Accept or lean toward: qualia theory
114 / 931 (12.2%)
Accept or lean toward: disjunctivism
102 / 931 (10.9%)
Accept or lean toward: sense-datum theory
29 / 931 (3.1%)
Personal identity: biological view, psychological view, or further-fact view?
Other
347 / 931 (37.2%)
Accept or lean toward: psychological view
313 / 931 (33.6%)
Accept or lean toward: biological view
157 / 931 (16.8%)
Accept or lean toward: further-fact view
114 / 931 (12.2%)
Politics: communitarianism, egalitarianism, or libertarianism?
Other
382 / 931 (41%)
Accept or lean toward: egalitarianism
324 / 931 (34.8%)
Accept or lean toward: communitarianism
133 / 931 (14.2%)
Accept or lean toward: libertarianism
92 / 931 (9.8%)
Proper names: Fregean or Millian?
Other
343 / 931 (36.8%)
Accept or lean toward: Millian
321 / 931 (34.4%)
Accept or lean toward: Fregean
267 / 931 (28.6%)
Science: scientific realism or scientific anti-realism?
Accept or lean toward: scientific realism
699 / 931 (75%)
Other
124 / 931 (13.3%)
Accept or lean toward: scientific anti-realism
108 / 931 (11.6%)
Teletransporter (new matter): survival or death?
Accept or lean toward: survival
337 / 931 (36.1%)
Other
304 / 931 (32.6%)
Accept or lean toward: death
290 / 931 (31.1%)
Time: A-theory or B-theory?
Other
542 / 931 (58.2%)
Accept or lean toward: B-theory
245 / 931 (26.3%)
Accept or lean toward: A-theory
144 / 931 (15.4%)
Trolley problem (five straight ahead, one on side track, turn requires switching, what ought one do?): switch or don't switch?
Accept or lean toward: switch
635 / 931 (68.2%)
Other
225 / 931 (24.1%)
Accept or lean toward: don't switch
71 / 931 (7.6%)
Truth: correspondence, deflationary, or epistemic?
Accept or lean toward: correspondence
473 / 931 (50.8%)
Accept or lean toward: deflationary
231 / 931 (24.8%)
Other
163 / 931 (17.5%)
Accept or lean toward: epistemic
64 / 931 (6.8%)
Zombies: inconceivable, conceivable but not metaphysically possible, or metaphysically possible?
Accept or lean toward: conceivable but not metaphysically possible
331 / 931 (35.5%)
Other
234 / 931 (25.1%)
Accept or lean toward: metaphysically possible
217 / 931 (23.3%)
Accept or lean toward: inconceivable
149 / 931 (16%)
Accept or lean toward: yes
662 / 931 (71.1%)
Accept or lean toward: no
171 / 931 (18.3%)
Other
98 / 931 (10.5%)
Accept or lean toward: Platonism
366 / 931 (39.3%)
Accept or lean toward: nominalism
351 / 931 (37.7%)
Other
214 / 931 (22.9%)
Accept or lean toward: objective
382 / 931 (41%)
Accept or lean toward: subjective
321 / 931 (34.4%)
Other
228 / 931 (24.4%)
Accept or lean toward: yes
604 / 931 (64.8%)
Accept or lean toward: no
252 / 931 (27%)
Other
75 / 931 (8%)
Accept or lean toward: externalism
398 / 931 (42.7%)
Other
287 / 931 (30.8%)
Accept or lean toward: internalism
246 / 931 (26.4%)
Accept or lean toward: non-skeptical realism
760 / 931 (81.6%)
Other
86 / 931 (9.2%)
Accept or lean toward: skepticism
45 / 931 (4.8%)
Accept or lean toward: idealism
40 / 931 (4.2%)
Accept or lean toward: compatibilism
550 / 931 (59%)
Other
139 / 931 (14.9%)
Accept or lean toward: libertarianism
128 / 931 (13.7%)
Accept or lean toward: no free will
114 / 931 (12.2%)
Accept or lean toward: atheism
678 / 931 (72.8%)
Accept or lean toward: theism
136 / 931 (14.6%)
Other
117 / 931 (12.5%)
Accept or lean toward: contextualism
373 / 931 (40%)
Accept or lean toward: invariantism
290 / 931 (31.1%)
Other
241 / 931 (25.8%)
Accept or lean toward: relativism
27 / 931 (2.9%)
Other
346 / 931 (37.1%)
Accept or lean toward: empiricism
326 / 931 (35%)
Accept or lean toward: rationalism
259 / 931 (27.8%)
Accept or lean toward: non-Humean
532 / 931 (57.1%)
Accept or lean toward: Humean
230 / 931 (24.7%)
Other
169 / 931 (18.1%)
Accept or lean toward: classical
480 / 931 (51.5%)
Other
308 / 931 (33%)
Accept or lean toward: non-classical
143 / 931 (15.3%)
Accept or lean toward: externalism
476 / 931 (51.1%)
Other
269 / 931 (28.8%)
Accept or lean toward: internalism
186 / 931 (19.9%)
Accept or lean toward: moral realism
525 / 931 (56.3%)
Accept or lean toward: moral anti-realism
258 / 931 (27.7%)
Other
148 / 931 (15.8%)
Accept or lean toward: naturalism
464 / 931 (49.8%)
Accept or lean toward: non-naturalism
241 / 931 (25.8%)
Other
226 / 931 (24.2%)
Accept or lean toward: physicalism
526 / 931 (56.4%)
Accept or lean toward: non-physicalism
252 / 931 (27%)
Other
153 / 931 (16.4%)
Accept or lean toward: cognitivism
612 / 931 (65.7%)
Other
161 / 931 (17.2%)
Accept or lean toward: non-cognitivism
158 / 931 (16.9%)
Other
329 / 931 (35.3%)
Accept or lean toward: internalism
325 / 931 (34.9%)
Accept or lean toward: externalism
277 / 931 (29.7%)
Other
441 / 931 (47.3%)
Accept or lean toward: two boxes
292 / 931 (31.3%)
Accept or lean toward: one box
198 / 931 (21.2%)
Other
301 / 931 (32.3%)
Accept or lean toward: deontology
241 / 931 (25.8%)
Accept or lean toward: consequentialism
220 / 931 (23.6%)
Accept or lean toward: virtue ethics
169 / 931 (18.1%)
Other
393 / 931 (42.2%)
Accept or lean toward: representationalism
293 / 931 (31.4%)
Accept or lean toward: qualia theory
114 / 931 (12.2%)
Accept or lean toward: disjunctivism
102 / 931 (10.9%)
Accept or lean toward: sense-datum theory
29 / 931 (3.1%)
Other
347 / 931 (37.2%)
Accept or lean toward: psychological view
313 / 931 (33.6%)
Accept or lean toward: biological view
157 / 931 (16.8%)
Accept or lean toward: further-fact view
114 / 931 (12.2%)
Other
382 / 931 (41%)
Accept or lean toward: egalitarianism
324 / 931 (34.8%)
Accept or lean toward: communitarianism
133 / 931 (14.2%)
Accept or lean toward: libertarianism
92 / 931 (9.8%)
Other
343 / 931 (36.8%)
Accept or lean toward: Millian
321 / 931 (34.4%)
Accept or lean toward: Fregean
267 / 931 (28.6%)
Accept or lean toward: scientific realism
699 / 931 (75%)
Other
124 / 931 (13.3%)
Accept or lean toward: scientific anti-realism
108 / 931 (11.6%)
Accept or lean toward: survival
337 / 931 (36.1%)
Other
304 / 931 (32.6%)
Accept or lean toward: death
290 / 931 (31.1%)
Other
542 / 931 (58.2%)
Accept or lean toward: B-theory
245 / 931 (26.3%)
Accept or lean toward: A-theory
144 / 931 (15.4%)
Accept or lean toward: switch
635 / 931 (68.2%)
Other
225 / 931 (24.1%)
Accept or lean toward: don't switch
71 / 931 (7.6%)
Accept or lean toward: correspondence
473 / 931 (50.8%)
Accept or lean toward: deflationary
231 / 931 (24.8%)
Other
163 / 931 (17.5%)
Accept or lean toward: epistemic
64 / 931 (6.8%)
Accept or lean toward: conceivable but not metaphysically possible
331 / 931 (35.5%)
Other
234 / 931 (25.1%)
Accept or lean toward: metaphysically possible
217 / 931 (23.3%)
Accept or lean toward: inconceivable
149 / 931 (16%)
sábado, 28 de novembro de 2009
Sobre uma ocidentalização esquizofrénica
Continuando a pista do post anterior, parece-me interessante a reflexão de W. Reed Smith no seu post http://civilitasblog.blogspot.com/2009/11/schizophrenia-issue.html .
Reportando-se a Spengler e a Toynbee, nos primórdios da história comparada contemporânea, o autor distingue as perspectivas, respectivamente, de um aproveitamento da tecnologia ocidental pelos não ocidentais, mas usando-a em conformidade a princípios e valores que restarão não ocidentais, de uma ocidentalização que, ao ser técnico-económica, será simultaneamente cultural. Daí a referência a uma eventual esquizofrenia civilizacional: estará em curso um duplo desenvolvimento dessas outras civilizações, ocidentalizando-se numa dimensão mas não nas outras? Com os seus exemplos sobre a Rússia, a China, especialmente sobre a imigração,... Smith sugere bem como esta questão afectará crescentemente o nosso dia-a-dia, e portanto como lhe temos que responder politicamente - em democracia, mediante a participação de cada cidadão.
A essa questão já antiga acrescenta-se hoje este pormenor: têm os optimistas, defensores duma ocidentalização universal como pretenderam os Iluministas do séc. XVIII, sinais de que o Ocidente ainda tem a vitalidade, a atractividade, a capacidade de oferta... necessárias para integrar os imigrantes, etc.? Ou todos esses outros simplesmente já não encontrarão aqui nada que os mobilize a uma sua aculturação integral?
Penso que a metafísica analítica do séc. XX faculta aqui um desvio que poderá ser produtivo: enquanto temporais, os entes - aquilo que há, desde eu, você, os nossos 2 computadores, até se calhar o conceito de "homem", de "4", etc. - podem ser concebidos endurantista ou perdurantistamente. Pela 1ª concepção, o que há é o que dura inalterável ao longo do tempo. Pela 2ª, o que há é o processo de alterações. A 1ª estrutura a tese essencialista sobre as civilizações - cada uma destas caracteriza-se por um núcleo que permanece ao longa da história, sem se misturar com os de outras civilizações. Conduz à percepção do "choque entre civilizações". A 2ª concepção metafísica estrutura a tese construtivista sobre as civilizações - cada uma destas caracteriza-se por um processo evolutivo, não determinado por qualquer núcleo.
Se o recurso à formulação metafísica facultar um maior esclarecimento, ou até desenvolvimento, de uma dessas teses históricas em detrimento da outra, esse desvio teórico já valerá a pena. Mais, se se apresentar algum critério de decisão em questões metafísicas, então tal desvio poderá ser mesmo decisivo.
Reportando-se a Spengler e a Toynbee, nos primórdios da história comparada contemporânea, o autor distingue as perspectivas, respectivamente, de um aproveitamento da tecnologia ocidental pelos não ocidentais, mas usando-a em conformidade a princípios e valores que restarão não ocidentais, de uma ocidentalização que, ao ser técnico-económica, será simultaneamente cultural. Daí a referência a uma eventual esquizofrenia civilizacional: estará em curso um duplo desenvolvimento dessas outras civilizações, ocidentalizando-se numa dimensão mas não nas outras? Com os seus exemplos sobre a Rússia, a China, especialmente sobre a imigração,... Smith sugere bem como esta questão afectará crescentemente o nosso dia-a-dia, e portanto como lhe temos que responder politicamente - em democracia, mediante a participação de cada cidadão.
A essa questão já antiga acrescenta-se hoje este pormenor: têm os optimistas, defensores duma ocidentalização universal como pretenderam os Iluministas do séc. XVIII, sinais de que o Ocidente ainda tem a vitalidade, a atractividade, a capacidade de oferta... necessárias para integrar os imigrantes, etc.? Ou todos esses outros simplesmente já não encontrarão aqui nada que os mobilize a uma sua aculturação integral?
Penso que a metafísica analítica do séc. XX faculta aqui um desvio que poderá ser produtivo: enquanto temporais, os entes - aquilo que há, desde eu, você, os nossos 2 computadores, até se calhar o conceito de "homem", de "4", etc. - podem ser concebidos endurantista ou perdurantistamente. Pela 1ª concepção, o que há é o que dura inalterável ao longo do tempo. Pela 2ª, o que há é o processo de alterações. A 1ª estrutura a tese essencialista sobre as civilizações - cada uma destas caracteriza-se por um núcleo que permanece ao longa da história, sem se misturar com os de outras civilizações. Conduz à percepção do "choque entre civilizações". A 2ª concepção metafísica estrutura a tese construtivista sobre as civilizações - cada uma destas caracteriza-se por um processo evolutivo, não determinado por qualquer núcleo.
Se o recurso à formulação metafísica facultar um maior esclarecimento, ou até desenvolvimento, de uma dessas teses históricas em detrimento da outra, esse desvio teórico já valerá a pena. Mais, se se apresentar algum critério de decisão em questões metafísicas, então tal desvio poderá ser mesmo decisivo.
Etiquetas:
condição do Ocidente,
metafísica
segunda-feira, 5 de outubro de 2009
"La fin du déterminisme en biologie" (continuação)
No 1º post com este título citei Cécile Klingler, apontando que seja qual for o paradigma epistemológico - determinista ou probabilista - a biologia contemporânea tem que enfrentar a questão das mesmas células controlarem a variabilidade de expressão de certos genes, deixando-a livre a outros genes. No resumo que fiz não incluí esta passagem anterior: "les gènes présentant le moins de variations aléatoires dans leur expression sont ceux indispensables au fonctionnement de base de la cellule. (...) Tandis que les gènes pour lesquels on repère une grande stochasticité d'expression sont des gènes qui n'interviennent pas dans ces processus fondamentaux" (op.cit.: 50). Foi uma dupla falha minha: desde logo, na sequência desta passagem creio ficar mais clara aquela outra.
Mas além disso ficará também mais claro como poderá a metafísica apoiar, a montante, esse desenvolvimento científico: é que tanto a diferença entre o funcionamento de base dum ente e o que é acessório a este último, assim como o modo geral como os entes se constituem ao longo do tempo, são objecto dessa disciplina, desde a diferença aristotélica entre substância e acidentes, até à actual metafísica da persistência (endurantismo vs. perdurantismo). A determinação exacta destes conceitos e das suas relações abrirá asssim as janelas de investigação mencionadas por J.-J. Kupiec no mesmo Dossier - v. Do sentido e horizonte da "ciência" (2).
Ah! "a metafísica poderá ajudar"... na condição de haver algum critério que permita distinguir as fórmulas metafísicas úteis, para já nem dizer "verdadeiras", das inúteis... Como diz o outro: é nestes detalhes que o diabo está!
Mas além disso ficará também mais claro como poderá a metafísica apoiar, a montante, esse desenvolvimento científico: é que tanto a diferença entre o funcionamento de base dum ente e o que é acessório a este último, assim como o modo geral como os entes se constituem ao longo do tempo, são objecto dessa disciplina, desde a diferença aristotélica entre substância e acidentes, até à actual metafísica da persistência (endurantismo vs. perdurantismo). A determinação exacta destes conceitos e das suas relações abrirá asssim as janelas de investigação mencionadas por J.-J. Kupiec no mesmo Dossier - v. Do sentido e horizonte da "ciência" (2).
Ah! "a metafísica poderá ajudar"... na condição de haver algum critério que permita distinguir as fórmulas metafísicas úteis, para já nem dizer "verdadeiras", das inúteis... Como diz o outro: é nestes detalhes que o diabo está!
Etiquetas:
ciências - emergentismo,
metafísica
sábado, 3 de outubro de 2009
"La fin du déterminisme en biologie"
O título deste post é também o do 1º artigo do Dossier "Le hasard au coeur de la vie", ed. S. Coisne, C. Klingler, in: La Recherche, Nº 434 (Octobre 2009): 38-53. Resumindo: nesse artigo A. Pàldi e S. Coisne recordam como a biologia se desenvolveu desde o séc. XVII sob o postulado do filósofo, matemático, e fisiólogo Renée Descartes de que cada processo num organismo vivo (qual máquina) decorre das partes que o compõem, e da organização destas. Todavia nem as recentes sequências do genoma ou catálogos de enzimas e proteínas têm facultado a explicação cabal do funcionamento mesmo dos organismos mais simples. Por outro lado, os instrumentos para observação dos componentes celulares em células individuais, a partir da década de 1990, permitiram reconhecer que as proteínas reguladoras da cópia e transmissão dos genes que lhes são correlativos são (aquelas proteínas) escassas, e deslocam-se aleatoriamente. Logo a probabilidade de que proteína e gene se encontrem é mínima. Logo a causalidade determinista é teoricamente substituída pelo acaso, e por algum critério de selecção das situações verificadas - segundo este critério a maioria dos casos será semelhante, daí a impressão macroscópica, ou colectiva em vez de individual, duma uniformidade determinista (afinal dum ovo de galinha costuma resultar... uma galinha).
No 2º artigo as organizadoras apontam o facto das células sãs precisarem de menos glucose do que as cancerígenas, pelo que, num ambiente de escassez, serão naturalmente seleccionadas em detrimento das 2ªs, como exemplo da vantagem evolutiva da diversidade celular (razão para o estabelecimento desta).
À pergunta "Les gènes jouent-ils aux dés?" (3º artigo), C. Klingler responde que nem isso nem o oposto, antes os processos deterministas constituem-se como casos particulares dos probabilistas, aqueles cuja probabilidade é próxima de 1 (da necessidade). E exemplifica com um circuito de 3 genes idênticos que produz intermitentemente uma proteína fluorescente, a qual, ao contrário da previsão determinista, não surge sempre numa mesma frequência (v. o filme "The repressilator" em http://www.elowitz.caltech.edu/movies.html). Aponta também os exemplos da competência apenas duma pequena percentagem de células numa população destas para absorverem fragmentos de ADN no meio ambiente, e da composição do olho da mosca, para sustentar uma influência fisiológica do acaso em organismos uni ou pluricelulares.
Klingler apresenta assim a biologia sistémica, que visa as redes de interacção ao nível celular e orgânico. Mas termina assinalando "que le concept probabiliste l'emporte ou pas, il restera à comprendre comment une même cellule peut contrôler la variabilité d'expression de certains gènes, tout en laissant libre champ à cette variabilité pour d'autres gènes" (p.50).
Desenvolvendo a questão do critério de selecção atrás referido, na entrevista a Jean-Jacques Kupiec este biólogo molecular sustenta enfim que "Nos cellules sont soumises à la sélection naturelle", até porque o princípio de que cada molécula, na sua estrutura tridimensional, apenas se pode relacionar com aquela com que se encaixe (como 2 peças de um puzzle), é falso: podem relacionar-se com muitas, e a escolha é aleatória. Importa pois considerar já não os processos individuais, mas os populacionais (moleculares ou celulares), os quais se equilibram entre uma estabilidade determinada pela selecção natural ao nível dessas populações, e variabilidade que permite a evolução.
A favor desta abordagem probabilista, Kupiec refere ainda que esta explica por exemplo que 95% do ADN não codifique qualquer gene, o que não é explicado pela abordagem determinista (a que propósito a selecção natural, ao nível dos organismos, manteria tamanha inutilidade?...).
Constatações e perguntas como esta última são induções para um outro paradigma que não o cartesiano-determinista. Mas assim, na perplexidade e nos embaraços que assumem, tornam-se também apelos a um movimento teórico inverso: o da formulação do ente (aquilo que há enquanto tal), nomeadamente na sua organização todo-partes, que se proporcione como modelo formal a aplicar pela bioquímica como por qualquer outra ciência, numa orientação destas últimas que procurariam então como que preencher os espaços, ou dar valores às variáveis prescritas por tal modelo, nos respectivos (de cada ciência) campos.
Ou seja, em alternativa à hipótese corpuscular da matéria, que os cientistas Modernos repescaram aos atomistas gregos com tão bons resultados, estes cientistas contemporâneos parecem apelar à formulação eficaz da matéria constituída holística e processualmente.
A formulação desses modelos ou hipóteses básicas é tarefa da metafísica. E assim voltamos ao exemplo de Descartes, que trazia a matemática à filosofia e a filosofia à matemática - Ou como está gravado no átrio do Instituto Abel Salazar, "Quem só sabe de medicina, nem medicina sabe".
No 2º artigo as organizadoras apontam o facto das células sãs precisarem de menos glucose do que as cancerígenas, pelo que, num ambiente de escassez, serão naturalmente seleccionadas em detrimento das 2ªs, como exemplo da vantagem evolutiva da diversidade celular (razão para o estabelecimento desta).
À pergunta "Les gènes jouent-ils aux dés?" (3º artigo), C. Klingler responde que nem isso nem o oposto, antes os processos deterministas constituem-se como casos particulares dos probabilistas, aqueles cuja probabilidade é próxima de 1 (da necessidade). E exemplifica com um circuito de 3 genes idênticos que produz intermitentemente uma proteína fluorescente, a qual, ao contrário da previsão determinista, não surge sempre numa mesma frequência (v. o filme "The repressilator" em http://www.elowitz.caltech.edu/movies.html). Aponta também os exemplos da competência apenas duma pequena percentagem de células numa população destas para absorverem fragmentos de ADN no meio ambiente, e da composição do olho da mosca, para sustentar uma influência fisiológica do acaso em organismos uni ou pluricelulares.
Klingler apresenta assim a biologia sistémica, que visa as redes de interacção ao nível celular e orgânico. Mas termina assinalando "que le concept probabiliste l'emporte ou pas, il restera à comprendre comment une même cellule peut contrôler la variabilité d'expression de certains gènes, tout en laissant libre champ à cette variabilité pour d'autres gènes" (p.50).
Desenvolvendo a questão do critério de selecção atrás referido, na entrevista a Jean-Jacques Kupiec este biólogo molecular sustenta enfim que "Nos cellules sont soumises à la sélection naturelle", até porque o princípio de que cada molécula, na sua estrutura tridimensional, apenas se pode relacionar com aquela com que se encaixe (como 2 peças de um puzzle), é falso: podem relacionar-se com muitas, e a escolha é aleatória. Importa pois considerar já não os processos individuais, mas os populacionais (moleculares ou celulares), os quais se equilibram entre uma estabilidade determinada pela selecção natural ao nível dessas populações, e variabilidade que permite a evolução.
A favor desta abordagem probabilista, Kupiec refere ainda que esta explica por exemplo que 95% do ADN não codifique qualquer gene, o que não é explicado pela abordagem determinista (a que propósito a selecção natural, ao nível dos organismos, manteria tamanha inutilidade?...).
Constatações e perguntas como esta última são induções para um outro paradigma que não o cartesiano-determinista. Mas assim, na perplexidade e nos embaraços que assumem, tornam-se também apelos a um movimento teórico inverso: o da formulação do ente (aquilo que há enquanto tal), nomeadamente na sua organização todo-partes, que se proporcione como modelo formal a aplicar pela bioquímica como por qualquer outra ciência, numa orientação destas últimas que procurariam então como que preencher os espaços, ou dar valores às variáveis prescritas por tal modelo, nos respectivos (de cada ciência) campos.
Ou seja, em alternativa à hipótese corpuscular da matéria, que os cientistas Modernos repescaram aos atomistas gregos com tão bons resultados, estes cientistas contemporâneos parecem apelar à formulação eficaz da matéria constituída holística e processualmente.
A formulação desses modelos ou hipóteses básicas é tarefa da metafísica. E assim voltamos ao exemplo de Descartes, que trazia a matemática à filosofia e a filosofia à matemática - Ou como está gravado no átrio do Instituto Abel Salazar, "Quem só sabe de medicina, nem medicina sabe".
Etiquetas:
ciências - emergentismo,
metafísica
domingo, 20 de setembro de 2009
Uma civilização 2.0?... (2)
"Durant la fraction temporelle, infime à l'échelle de l'évolution humaine, de son existence, la prothèse Internet est pensée par analogie au monde sensible. Mais elle est appelée à devenir elle-même outil de pensée. Lorsque le monde sensible se concevra para analogie avec Internet, ce sera une nouvelle révolution" - Emmanuel Sander, "Comment Internet change notre façon de penser", Sciences Humaines, Nº 186 (Octobre 2007): 45.
Tinha ideia que tinha arquivado alguns textos sobre o tema do meu último post, já depois de o colocar fui procurá-los e encontrei este artigo de E. Sander que me sugere 2 desenvolvimentos de Uma civilização 2.0?.... O 1º é que a virtualização da nossa experiência sensível pode ir (e já leva!) mais longe do que eu sugeri ao referir a redução das 3 para as 2 dimensões (no écran), a redução do olfacto... à visão, etc. Vejam-se os hologramas, ou qualquer ligação das zonas cerebrais psico-auditivas... a um computador que emita os sinais eléctricos que o cérebro percebe como, por exemplo, som do restolhar de folhas cujo cheiro é induzido por outros sinais eléctricos... - trata-se, como o autor assinala, da muito discutida hipótese metafísico-epistemológica dos cérebros numa cuba (dramatizada pelo filme The Matrix).
Mas a também conhecida crítica a essa hipótese introduz o 2º apontamento: a própria concepção da situação de cérebros mantidos vivos artificialmente fora do organismo, recebendo sinais eléctricos como os acima mencionados, remete para além dela (situação) ao pressupor precisamente a exterioridade ao cérebro dumas cubas, computador, gerador eléctrico, etc. Ou seja, para se hipostasiar uma virtualidade de toda a percepção requerem-se outras entidades não virtuais.
Voltando às reflexões de Sander, com efeito perspectiva-se uma revolução se, depois e no sentido inverso da extensão metafórica da sensibilidade à internet na vivência de expressões como "visitar um site", "guardar um ficheiro numa pasta", "conversar no Messenger", etc., vier a internet invadir a nossa vivência sensível mediante técnicas como as acima apontadas. Referi-me a isto no último momento do post anterior. Penso porém que faltou um pormenor àquele autor:
A seguir a assinalar, e bem, como a internet anula mesmo as nossas tradicionais determinações do espaço e tempo (ex. o arquivo da Amazon é-nos mais próximo do que as estantes da livraria "mais próxima"), diz que "Internet conduit également à dissocier matérialité et possibilité d'action, qui semblaient consubstantielles jusqu'à peu" (op.cit.: 44). Mas apenas exemplifica com acções cuja iniciativa cabem ao utente, real, da internet sobre tudo o que nesta se disponha virtualmente. Ao menos um traço, pois, mantém uma diferença entre realidade e virtualidade: a capacidade de iniciativa - i.e. de originar uma novidade.
Uma alteridade que, em caso de tal revolução civilizacional, deixa em maus lençóis a civilização que a implemente. Em O Nó do Problema Ocidental - A dimensão das ciências lembro a lei de Murphy a todos quantos perspectivem um esquecimento da realidade numa redução deste termo a "virtualidade" - imagine-se o que aconteceria ao mundo virtual se o operador do gerador de electricidade se convencesse de que este seu estatuto era apenas mais um seu avatar entre outros no Second Life, e que a páginas tantas o resolvesse abandonar por não ser suficientemente emocionante...
Post Scriptum - não usarei um blogue para tais comunicações, mas neste caso apontarei que a metafísica tomista faculta os conceitos que enformam o que há numa irredutibilidade de realidade a virtualidade. A saber, o que pode haver (homens, avatares...) não se constitui simplesmente como uma possibilidade lógica (ausência de obstáculos a uma sua efectivação), antes é em potência - algo em acto tem em si o poder de se desenvolver num tal sentido. Este poder falta à virtualidade (ex.: os avatares não podem ter a iniciativa de tomar como virtualidade o gerador que a sua constituição como "avatares" pressupõe). Só a metafísica Moderna, que identificou "potência" a "possibilidade", se deixa envolver numa tal redução. Mas sobre isto veja-se o artigo de José Enes, "Dois universos ontológicos", in: Noeticidade e Ontologia, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1999: 165-189. Daí naquele meu ensaio eu ter remetido a resolução do problema ocidental para a discussão metafísica do séc. XIII para o séc. XIV.
Etiquetas:
condição do Ocidente,
metafísica,
tecnociência
Subscrever:
Mensagens (Atom)