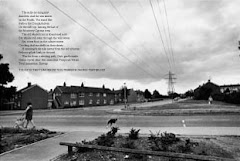O outro Nº da Seara Nova que me ocorreu trazer aqui foi o 802, de 26 de Dezembro de 1942. Mais do que a propósito, saiu precisamente naqueles dias em que o VI exército alemão ficou cercado em Estalinegrado, e se começou a inverter a sorte da guerra. De duas outras guerras trata o artigo do filósofo português José Marinho naquele Nº dessa excelente revista, "Tolstoi e «Guerra e Paz»", pp. 83-85. Por mim (felizmente sem o pretexto doutra grande guerra), até no adjectivo de Marinho à arte do escritor russo é mais uma maneira de voltar a A Grande Arte - tributo a Tolstoi!
Posso já citar: "Como em toda a grande arte, a finalidade aqui não é a de nos ensinar qualquer coisa acerca do que se passou (...), mas simbolizar, num momento particularmente adequado para tal, a existência do homem em todos os seus múltiplos aspectos. Nem falta a este ponto uma subtil ironia quando o autor nos mostra que na paz se trava entre os homens e dentro de cada homem uma guerra não menos dolorosa, embora menos sangrenta, quando nos mostra, por outro lado, que no meio das dores e das atrocidades da guerra podem certos homens, num breve instante, abrir suas almas ao sentido daquela verdadeira e sublime serenidade em que tudo se compreende (...)" (p. 85). Se se logra apresentar o universal no singular, essa será então a "grande arte". Que neste caso nos dá conta de duas guerras: a sangrenta, entre comunidades, que normalmente ostenta esse nome... e que se constitui como um momento particularmente adequado para se apresentar uma outra guerra, esta sem sangue, entre quaisquer homens - mas especificamente no seio da mesma comunidade! - na antecâmara da que se trava no interior de cada homem.
E sobre esta última julga o nosso intérprete (3 parágrafos acima) que "propõe o romancista todo o seu tema. Os humanos vivem mesquinha e contraditoriamente a paz, e a guerra resulta de uma tentativa de escapar a essa mesquinhez e contradição. Mas a guerra, por seu turno, desnuda todo o absurdo, toda a miséria, toda a crueldade do homem. E dessa experiência regressa ele não menos desiludido, ao mesmo que antes fora". "Neste sentido se pode acrescentar que poucas obras existem tão profundamente pessimistas como Guerra e Paz" (p. 84). José Marinho reforça este juízo com a contraposição de Natacha e de Nicolau Rostov aos irmãos príncipes Maria e André, uma vez que os dramas interiores destes últimos não podem aspirar a melhor resultado do que a vida banal a que os 1ºs chegam sem maior esforço... Neste ponto, tanto quanto recordo a minha leitura adolescente - mas quanto ela me marcou! - dessa grande obra, mais o que a minha mulher me foi apontando quando a leu há poucos anos, não concordo com José Marinho. Ao contrário, há uma esperança, mas ela é custosa e, principalmente, diferente da que se visa no início (e durante quase todo o) percurso que a cumpre: tanto Natacha quanto o amigo de sempre com quem acaba por casar, Pedro, terminam pelo menos em parte libertos das fantasias e impulsos que os dominavam. Uma e outro não alcançam a densidade interior de Maria e de André, é certo, mas ao menos ultrapassam a tonteria em que viviam. E esta sua resolução interior faculta-lhes comportamentos mais produtivos, menos facilitadores da destruição, do que os comportamentos para que antes por si mesmos eram arrastados.
Essa processualidade que se constitui por pequenos nadas, mas que em cada passo a podem reorientar, parece-me aliás ficar reforçada com a teorização que Tolstói desenvolve nessa própria obra sobre a história à luz do, ou em analogia ao cálculo infinitesimal matemático (- hei-de lembrar-me de aqui voltar noutro dia).
Por agora termino com 2 apontamentos: 1) Também José Marinho ficou marcado pelo que a mim me impressiona nessa mundividência russa de Guerra e Paz ao Doutor Jivago: "pode comparar-se proveitosamente com o D. Quixote, de que dá, de múltiplas maneiras, visão e forma estética contrapolar. Na mais alta criação do génio ibérico, há uma personagem central simbólica em relação à qual toda a acção decorre e se ordena. Na mais vasta criação do génio eslavo, é impossível encontrar personagem simbólica adunadora, uma dessas figuras plenamente individualizadas das quais todo o essencial provém e a que tudo, em última análise, se refere" (p. 83). Ainda que o mais a que D. Quixote chega, acrescento eu, está mesmo muito próximo do que Marinho reconhece em Natacha...
2) "Ainda hoje muitos homens pensam na Europa e fora dela (...) que o Renascimento e tudo quanto se lhe seguiu significam a definitiva libertação do homem das ilusões místicas, (...). Ora toda a grande arte, e este é o significado da obra de Tolstoi, especialmente de Guerra e Paz, sugere que, concebido nos termos em que o vemos, tal desígnio leva os homens à imbecil satisfação e à certa perda" (p. 84). Na maior parte do ensaio que dá o nome a este blogue - e portanto nas entrelinhas da maioria destes posts - o que tenho andado a procurar sugerir não é mais do que isso... Assim eu o tivesse sabido dizer com a grande arte de José Marinho!